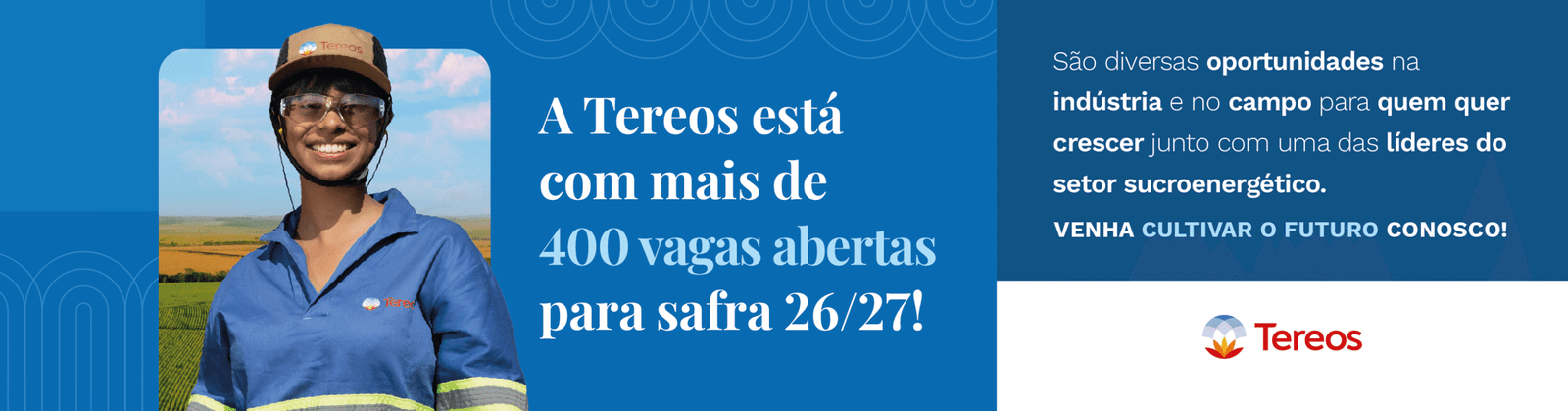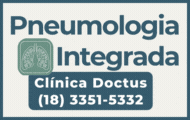Em meio ao cafezal, no município de Tomazina, a 306 quilômetros de Curitiba (PR), Edésio Luiz de Souza lembra-se claramente das tristes cenas que viu nas primeiras horas do dia 18 de julho de 1975, quando os 2.500 pés de café que ele cultivava amanheceram completamente queimados pela geada que atingiu todo o Paraná e o Estado de São Paulo naquela madrugada. O fenômeno ocorrido há 50 anos também afetou Palmital e a região do Vale do Paranapanema.
“Parece que foi ontem. Quem viveu aquilo jamais se esqueceu. Tudo estava morto, congelado. Eu nunca tinha visto coisa igual e nunca mais vi uma geada tão brava”, conta o cafeicultor, atualmente com 80 anos de idade.
Geada negra no Paraná
Em Londrina, a maior cidade do interior do Paraná, a 192 quilômetros de Tomazina, o engenheiro agrônomo e pesquisador Tumoru Sera se emociona ao se recordar da paisagem fúnebre que se avistava em todo o horizonte naquele amanhecer de 50 anos atrás.
Na época com 24 anos de idade, ele já era pesquisador do então Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) e havia se dedicado, no dia anterior, quando um vento frio e insistente chegou à região no fim da tarde, a tentar salvar as plantas do experimento que mantinha, protegendo-as, fazendo sobre elas uma espécie de “casa” com plantas de milho ou cobrindo com terra os troncos dos cafeeiros mais novos.
Sera conseguiu preservar parte do café que desenvolvia para ser resistente ao fungo que causa a doença conhecida como ferrugem, mas na propriedade dos pais dele, Jitsuo Sera e Shige Kuwano Sera, tudo se perdeu.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_afe5c125c3bb42f0b5ae633b58923923/internal_photos/bs/2025/j/O/PyXLM7ROmXaKImzc87KQ/linha-do-tempo-geada-negra.png)
Massa de ar polar
A geada negra de 1975 foi causada por uma massa de ar polar que derrubou as temperaturas, fez nevar em Curitiba em 17 de julho e avançou com intensidade “mapa do Brasil acima”, causando os maiores danos na madrugada do dia seguinte, 18 de julho.
O Norte do Paraná se desenvolveu a partir dos anos 1930 graças à riqueza dos cafezais, que tornaram o Estado o principal produtor do país, a ponto de chegar, em 1962, a responder por 64% de toda a produção nacional, segundo Hugo Godinho, engenheiro agrônomo do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento.
Apesar das perdas para o frio, os cafeicultores insistiam na atividade porque nos anos bons a produção era grande, tanto que o governo federal passou a incentivar a erradicação de cafeeiros e a diversificação de culturas.
Em 1975, de acordo com o pesquisador Irineu Pozzobon, em seu livro “A epopeia do café no Paraná”, havia 942 mil hectares cobertos por cafezais no Estado, com 900 milhões de pés de café, respondendo por 34% da produção nacional. E praticamente nenhum deles resistiria à geada de 18 de julho, considerada a pior da história. Tanto que a safra do ano seguinte, 1976, seria considerada como zerada em produção.
No Estado de São Paulo, a Secretaria de Agricultura informou aos jornalistas nos dias seguintes ao fenômeno que 200 milhões de cafeeiros foram prejudicados.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_afe5c125c3bb42f0b5ae633b58923923/internal_photos/bs/2025/X/A/oEBrCcRoijtCbgbeXyzQ/b-credito-arminio-kaiser-acervo-do-museu-historico-de-londrina-padre-carlos-weiss.jpg)
Por que geada negra?
Agrometeorologista e pesquisadora do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), Heverly Morais explica que a geada negra recebe esse nome pelo fato de deixar as plantas queimadas, pretas, como se tivessem sido atingidas pelo fogo.
Segundo ela, isso acontece por causa do vento, que faz com que, no caso do café, o frio extremo atinja o tronco da planta. “Não tem o que segura o vento, ele vence as folhas, os galhos, passa pelas frestas. E naquela ocasião ventou”, explica.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_afe5c125c3bb42f0b5ae633b58923923/internal_photos/bs/2025/j/R/WnwbTTRoOiyaUA5Iuw4A/n-heverly-morais-agrometeorologista-idr-pr.jpg)
Na madrugada de 18 de julho de 1975, a temperatura em Londrina, no abrigo, chegou a – 3,5º C. Consultando seu banco de dados, Heverly não encontra temperatura inferior a essa no município nos 50 anos seguintes. “Nunca mais fez tanto frio”.
Todo esse frio, empurrado pelo vento, propiciou que as seivas das plantas se congelassem, deixando-as mortas, queimadas. “O frio rompe e congela os tecidos vegetais e queima a planta, que fica com esse aspecto enegrecido”, detalha a pesquisadora. “Naquele dia, também houve a geada branca, que é a deposição de gelo sobre as plantas, por causa do orvalho”, complementa.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_afe5c125c3bb42f0b5ae633b58923923/internal_photos/bs/2025/z/p/1hSZtYQcq5IQgAAAWHBw/d-credito-acervo-do-museu-historico-de-londrina-padre-carlos-weiss.jpg)
Fonte: Revista Globo Rural
Fenômeno impulsionou mecanização da agricultura em Palmital
A partir dos anos de 1970, com as lavouras de café envelhecidas e o produto em declínio devido ao mercado internacional e à mudança de leis trabalhistas, que obrigavam a formalização dos trabalhadores, colonos e meeiros, houve início de mudança no perfil agrário, quando os pequenos sitiantes preferiam buscar trabalho para a família na zona urbana, em São Paulo e outros centros maiores.
Em 1975, uma grande geada, provavelmente a maior da história de Palmital, destruiu praticamente todas as lavouras, principalmente os cafezais que ficaram apenas nos troncos das árvores, o que causou grandes perdas e obrigou agricultores a buscar outras alternativas. Em 1977, uma geada menor, mas também devastadora, definiu uma nova etapa na atividade agrícola de Palmital.

A introdução do trigo como lavoura alternativa aconteceu no início da década de 1970, uma aposta para enfrentar as geadas do inverno e de produzir duas safras anuais, alternada com o milho. Em seguida, foi introduzida a soja de maneira experimental em várias propriedades, criando a diversificação agrícola já presente em outras regiões produtoras.
Com a consolidação da chamada agricultura de grãos de trigo, milho e soja, houve mudança no perfil agrícola e também na estrutura agrária, já que havia necessidade de áreas maiores para uso de máquinas e equipamentos, como tratores, arados, grades, plantadeiras e também colheitadeiras, cujas aquisições eram favoráveis aos proprietários mais bem estruturados e aqueles com acesso a financiamento bancário, já que havia incentivo oficial à produção de cereais.
Junto à mudança no perfil agrário, com aquisições de pequenas áreas pelos proprietários maiores, também havia incentivo ao aproveitamento das várzeas desde o final dos anos de 1960, quando foi iniciada a drenagem de áreas alagadas para aproveitamento agrícola. Nesta mesma época, as matas nativas ainda existentes praticamente desapareceram, dando lugar às grandes extensões de terras aradas para plantio de soja, milho e trigo e também a cana-de-açúcar, cujas áreas foram reduzidas, mas mantidas como opção de muitos agricultores.
Desde então, houve aprimoramento do modelo agrícola com a produção extensiva de grãos e cana-de-açúcar e reforço do modelo agrário, de maior concentração de terras entre os agricultores que modernizaram suas atividades com máquinas e equipamentos, novos cultivares e insumos para melhoria da produtividade que cresceu bastante nos últimos 50 anos.
Sem perder a característica de região com boa divisão agrária graças à manutenção da maioria de propriedades pequenas e médias, majoritariamente familiares, foram introduzidas novas tecnologias de plantio, tratos culturais e colheita, como a adoção do sistema de Plantio Direto sobre a Palha, nos anos de 1980, pela família Tronco, assim como o uso de agrotóxicos para controle de pragas e equipamentos modernos para colheitas mais rápidas e eficientes, além da melhoria do transporte em estra das rurais bem cuidadas e uso de caminhões para escoamento das safras entregues em armazéns mais próximos, tanto nas propriedades como em cooperativas e empresas particulares que se instalaram na cidade.

A adoção da chamada agricultura extensiva em algumas propriedades maiores, de mais produção por unidade e reduzida utilização de mão-de-obra, garantiu mais renda aos agricultores e fez crescer o êxodo rural com o aumento significativo da população urbana. Junto ao novo modelo de agricultura consolidada, cujas alternativas ficaram restritas ao plantio de mandioca usada em pequenas indústrias de Palmital e da região, assim como foi feita a introdução da banana, cultura incentivada por meio de cooperativa, surgiu também a preocupação ambiental e maior rigor da fiscalização sobre o uso dos recursos naturais.
Fonte: Livro “Palmital Centenária – Dos Picadões à Internet – 1920-2020”, do jornalista Cláudio Pissolito