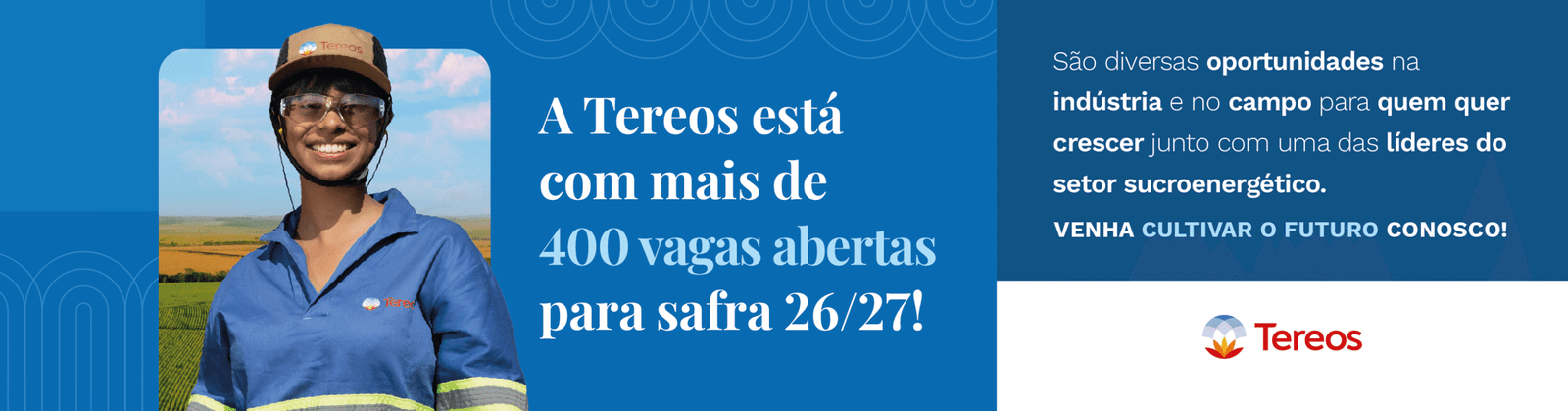Atualmente, estamos testemunhando a erupção de vários conflitos causados por inúmeras causas que são difíceis de explicar. Pesquisamos e encontramos um nome: guerras civis moleculares.
Se no passado, os movimentos insurrecionais eram justificados, ou pelo menos esperavam ser, como por exemplo uma revolta independentista contra potências coloniais, hoje, não há uma justificativa única à vista para essa violência generalizada que vemos expandindo, ainda, em nossa região.
Essas guerras civis moleculares entram em erupção internamente sem a necessidade de qualquer contágio estrangeiro. Também não começam de uma clara divisão da sociedade em dois lados.
Como o professor e jornalista alemão Hans Enzensberger nos diz, esse fenômeno tem uma característica que o diferencia de outros tipos de violência no passado, que é: “… a natureza autista dos autores e sua incapacidade de distinguir entre destruição e autodestruição (…) (…) a violência foi libertada da ideologia.”.
Podemos afirmar que os processos indicados acima estão em desenvolvimento em quase todo o mundo. Mas eles fazem isso em intensidades diferentes.
Por exemplo, em lugares como Iraque, Iêmen ou Curdistão, eles adquiriram características de um conflito aberto, endêmico e ilimitado com a participação de facções fortemente armadas com o apoio de potências externas que vêm e vão.
Em nossa região, são conflitos que parecem explodir do zero, como aconteceu no Equador e no Chile, devido aos planos de ajuste econômico. Mas isso traz à tona questões muito mais profundas, como reivindicações indígenas autônomas ou profunda desigualdade social.
Diferente do caso da Venezuela, também gerado por uma grave crise econômica, mas com um estado com capacidade de mantê-los afastados.
Por outro lado, existem estados, como o mexicano ou o colombiano, e até o brasileiro e o argentino, com sérias dificuldades em controlar certos espaços internos, principalmente dentro de suas cidades e prisões, nas mãos de organizações criminosas não estatais.
Finalmente, existem sociedades que, apesar de gozarem de um estado forte, como no caso dos EUA, enfrentam tensões internas violentas que se manifestam esporadicamente em explosões de violência, como tiroteios em massa.
Em muitos dos casos mencionados, a diferença é possibilitada por esses Estados em sua capacidade de manter o exercício do monopólio no uso legítimo da força. Ou, em outras palavras, o controle que o mesmo Estado pode exercer sobre suas Forças Armadas como a “última proporção do regime”.
Nesse ponto, naturalmente, surge a questão da legitimidade no uso da força pelo Estado. Uma vez que apenas um empregado com o propósito superior de manter a paz, definido como tranquilidade em ordem, terá probabilidades razoáveis de se impor contra as facções sociais que a contestam.
Mas, mesmo em um contexto de relativa legitimidade, as forças policiais e militares comprometidas com a defesa do Estado enfrentam o dilema de não incorrer na chamada “Síndrome de Golias” e perder essa legitimidade devido ao uso excessivo da força.
As dificuldades se somam à presença de altos níveis de corrupção no Estado que dificultam o bom funcionamento dos sistemas de representação política. Estes estão limitados ao desenvolvimento periódico de eleições democráticas; mas que escolhem governos que por acaso integram um regime de privilégios diante de uma massa populacional cada vez mais pauperizada.
Concluindo tudo isso, pode-se expressar que a frequência e a intensidade desse tipo de conflito aumentarão.